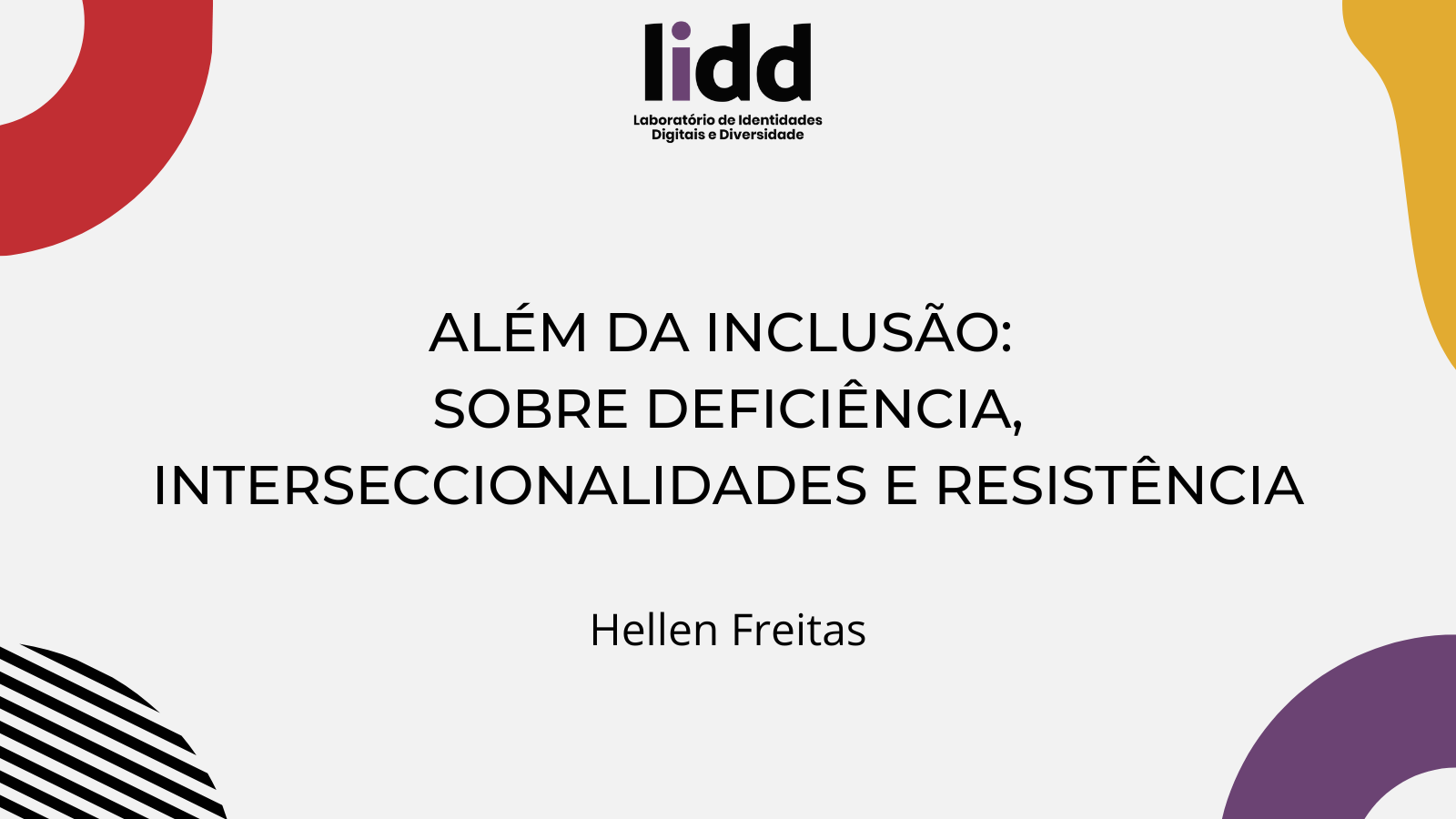O modelo médico da deficiência diz que uma deficiência nada mais é que certa lesão, um fenômeno orgânico que gera a deficiência. Sendo assim, o que a medicina pode fazer por essa pessoa é uma intervenção, através de exame ou tratamento. A deficiência, portanto, está no sujeito lesado e ela é a origem de toda exclusão que pode surgir a partir dela. O modelo social, por sua vez, defende que a deficiência é um fenômeno social, não mais possui um caráter médico, ao dizer que o que se gera de exclusão e possibilidade, depende não simplesmente do tipo de corpo que uma pessoa possui, mas sim do ambiente em que ela se encontra. Aqui, o problema não é mais o corpo lesado, mas sim o ambiente social que não é preparado para aquele corpo. O modelo social retira da deficiência a responsabilidade pela exclusão e a coloca no ambiente.
Existem várias problemáticas em torno da questão “Modelo Médico X Modelo Social da deficiência”, a sociedade é marcada pelo olhar do modelo médico, por isso, não é incomum ver alguém se dirigir a uma pessoa com deficiência como “coitada”, praticamente decretaram uma vida infeliz para aquela pessoa sem sequer conhecer de perto a sua vida. Raro mesmo é ver em programas de televisão alguém com deficiência falando algo que não seja a lesão que possui, ou mesmo em filmes é difícil lembrar algum título que retrata essas pessoas sendo felizes ou mesmo praticando esportes. O tempo todo a sociedade constrói no imaginário coletivo o martírio que é viver com alguma deficiência. São inúmeros os estereótipos produzidos em torno do sujeito com deficiência que extrapolam o contexto biológico da lesão, considerando a mesma como uma espécie de castigo irreversível. Entretanto, a maioria da exclusão que a deficiência abarca ou integração que ela demanda só possui relevância quando o sujeito se insere na sociedade, a deficiência desconectada da realidade não existe, o que há é apenas a lesão, conforme aponta a autora Débora Diniz (2012): “O corpo com deficiência somente se delineia quando contrastado com uma representação do que seria o corpo sem deficiência.”
A inclusão busca reparar o problema causado pela exclusão bem como o modelo social se opõe ao modelo médico. A partir do olhar do modelo social é possível pensar em acessibilidade, em meios de possibilitar que a pessoa com deficiência viva bem e ciente de que isso não é um favor feito a quem possui alguma lesão, mas sim um direito bem como direito a lazer, saúde, moradia e educação, são direitos humanos. Partindo desse pressuposto é possível encontrar na sociedade medidas como portas de ônibus automatizadas que permitem a entrada de cadeirantes no transporte público, rampas, produções audiovisuais com descrição das imagens em áudio, implementação de programas ações afirmativas em instituições, mas ainda falta muito para que a sociedade entenda que a deficiência faz parte da diversidade e crie formas efetivas que inclusão e integração. Afinal, não basta que os ônibus tenham portas automatizadas se o motorista não para o ônibus ao ver uma pessoa com deficiência fazer sinal para embarcar e quando para, muitos passageiros se mostram impacientes. Não basta ter rampas nos locais se o asfalto estiver totalmente desnivelado oferecendo riscos para pessoas com dificuldade de mobilidade ou que façam uso de cadeira de rodas. Não basta que produções audiovisuais possuam descrição em áudio se elas são feitas a partir de referenciais de pessoas videntes. Não basta que pessoas com deficiência entrem na universidade sem que haja políticas efetivas em prol da permanência destes alunos. Nas medidas de “inclusão” insuficientes encontra-se o desinteresse pela população com deficiência e a negligência da sociedade ao criar ferramentas de manutenção das dificuldades ao invés de realmente garantir os direitos da população.
Somando a esta discussão, o investigador Bruno Sena Martins (2008) em entrevista para Márcia Moraes aponta que as políticas públicas eficientes assumem papel nas micropolíticas e nas interações sociais que realmente marcam a vida das pessoas com deficiência ao garantir autonomia e cuidado. Martins aprofunda o debate quando dispara que o impacto das políticas públicas sempre será declinado se na prática a sociedade não estiver consciente dos direitos das pessoas com deficiência. Afinal, são estes sujeitos civis que estão na administração pública, nas escolas, nas construtoras, nas produções audiovisuais, nos museus, nas empresas e em demais equipamentos que agenciam a construção de identidade. Se estes equipamentos não incluem as pessoas com deficiência, de novo a lógica excludente do capacitismo ganha vez, produzindo até mesmo auto-ódio e outras reverberações que este sistema de opressão pode acarretar. Por isso, Martins adverte que as barreiras impostas à realização pessoal das pessoas com deficiências são retratos da organização social que negligencia e invisibiliza as diferenças, o que está fora da norma imposta. São os estigmas culturais que fazem da acessibilidade uma questão individual frente às ausências das organizações sociais e governamentais. Assim, é imprescindível que as políticas públicas estejam engajadas em uma pedagogia social, que enfatize a participação social na tomada de decisão e na construção de projetos de lei, incluindo, principalmente, a participação de pessoas com deficiência nestes espaços. E além disso, que haja a articulação deste movimento com as reivindicações sociais em prol da superação do capacitismo e da lógica assistencialista.
Nesse cenário de tensionamento entre o modelo médico e o modelo social da deficiência, surge também o conceito de corpos crip, que propõe uma crítica radical à normatividade corporal e aos dispositivos de controle que regulam quem pode ser considerado “funcional” ou “adequado”. O termo “crip”, ressignificado a partir da palavra “cripple” (aleijado, em inglês), é apropriado como uma identidade política por pessoas com deficiência, sobretudo nos debates acadêmicos e ativistas. A teoria crip não se limita a pensar a deficiência apenas como uma diferença a ser incluída, mas questiona o próprio paradigma da normalidade, desestabilizando ideias fixas de produtividade, autonomia e estética corporal. Os corpos crip não buscam apenas adaptação ao sistema, mas desafiam a estrutura que exige que corpos se adaptem. Essa perspectiva permite um olhar ampliado para a deficiência como potência política e estética, abrindo espaço para novas formas de existência que não se conformam ao ideal capacitista. Pensar os corpos crip é também repensar o que entendemos como corpo, vida digna, autonomia e liberdade.
Nesse contexto, é interessante pensarmos sobre interseccionalidade. Denominada por Jurema Werneck (2007) como a coexistência de diferentes fatores podem ser nomeados como eixos da subordinação, que ocorrem de maneira simultânea na vida das pessoas e permitem entender a complexidade da situação de grupos e indivíduos. O pensamento de Werneck está alinhado a Kimberlé Crenshaw (1989), grande autora neste debate, que afirma que a interação entre dois ou mais eixos de subordinação gera consequências dinâmicas e estruturais na vida da pessoa. Ou seja, ser uma pessoa com deficiência em um lugar social de privilégio é diferente de ser uma pessoa com deficiência em territórios marginalizados. Ser um homem com deficiência cisgênero, branco, da Zona Sul do Rio de Janeiro e com alto poder aquisitivo é diferente de ser uma mulher trans, negra, no interior do estado, por exemplo. O acesso aos direitos e a informação são diferentes. Em territórios marginalizados a invisibilidade é maior, principalmente se tratando de pessoas atravessadas por diversas interseccionalidades. Como dito anteriormente, as políticas públicas ainda são inconsistentes para abarcar as demandas da população com deficiência. Se a organização governamental já é negligente com esta população diante dos olhos dos grandes centros urbanos, muito mais ela é nos territórios considerados insivíveis. Nesse sentido, Fabiana Leonel Castro (2010) aponta que a presença dos eixos de subordinação não se desenvolvem de forma isolada e a presença deles não distancia outros fatores, nem propõe uma ideia de hierarquia de opressão, mas estes fatores simultâneos potencializam discriminações.
Por isso, é importante que os movimentos sociais caminhem juntos em prol da justiça social, pelas múltiplas formas de ser e estar no mundo, que a luta antirracista não se encerre na discussão sobre raça, que o feminismo não se restrinja somente ao gênero, que o movimento LGBT também lance olhar ao movimento anticapacista. O documentário Crip Camp – A revolução da Inclusão, produzido por Barack e Michelle Obama, revela a necessidade da luta interseccional ao contar a história sobre a participação do movimento Pantera Negra na luta em prol dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Bradley Lomax, militante membro do Partido Pantera Negra, reconheceu a necessidade de mais serviços do Partido voltados às pessoas com deficiência e com apoio dos Panteras Negras criou uma base para aconselhamento da população com deficiência. O Partido não tinha uma pasta específica para esta população, mas com o envolvimento de Lomax começou a se inserir na luta, apoiar iniciativas e causas, principalmente a Lei de Reabilitação dos Estados Unidos.
A luta por direitos da população com deficiência não deve ser a causa de um grupo, assim como a luta pelo fim da homofobia não se encerra na comunidade LGBT, deve ser uma causa social que implique a participação ativa de toda a sociedade. A reivindicação por direitos não se trata de busca por privilégio, está longe disso, é sobre oportunidades e justiça social, o que envolve mais do que legislação e políticas públicas, envolve educação social e conscientização de toda a população.
REFERÊNCIAS
CASTRO, Fabiana Leonel. Negras, jovens, feministas: sexualidade, imagens e vivências. Dissertação (Mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010.
DINIZ, Debora. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2012.
MORAES, Marcia. Entrevista com Bruno Sena Martins. Rio de Janeiro, 2008.
GONZALEZ, Flavio. Brad: o Pantera Negra com deficiência. Câmara Paulista para Inclusão da Pessoa com Deficiência. Disponível em: https://www.camarainclusao.com.br/artigos/brad-o-pantera-negra-com-deficiencia-por-flavio-gonzalez/. Acesso em 02. Mai. 2025
SKLIARI, Carlos. Incluir as diferenças? Sobre um problema mal formulado e uma realidade insuportável. Revista Interinstitucional Artes de Educar. Rio de Janeiro, v. 1 n. 1, pag 13-28, 2015.
WERNECK, Jurema. Construindo a equidade: estratégias para implementação de políticas públicas para a superação das desigualdades de gênero e raça para as mulheres negras. Rio de Janeiro: AMNB, 2007.
Hellen Freitas
Graduanda em Psicologia (IP/UFRJ) e Bolsista do Laboratório de Identidades Digitais e Diversidade.